Durante anos, a captura e armazenamento de carbono (CAC ou CCS, na sigla em inglês) tem sido uma das grandes promessas tecnológicas na luta contra as mudanças climáticas. A ideia é simples: se não podemos deixar de emitir CO₂, podemos capturá-lo do ar e enterrá-lo de forma segura em formações geológicas profundas. Mas esse plano está começando a perder sentido.
Sempre presumimos que o espaço para depósito que tínhamos em mente era praticamente infinito para armazenar tudo o que quiséssemos. As estimativas falavam de uma capacidade entre 10.000 e 40.000 gigatoneladas de CO₂, o que nos permitiria viver tranquilos sem ter que reduzir nossas emissões da noite para o dia.
Porém, um novo e contundente estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas veio nos dar um banho de realidade: o espaço para depósito é muito menor e tem condições muito rigorosas para ser usado.
O novo valor, que os autores definiram como um “limite planetário prudente”, é de 1.460 gigatoneladas de CO₂. Isso é quase uma ordem de magnitude menor do que as estimativas mais otimistas que se tinham até então. É como descobrir que o disco rígido que se pensava ter 40 terabytes, na verdade, só possui 1,5 terabyte de armazenamento útil.
Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores não se limitaram a calcular o volume total das bacias sedimentares do planeta. Em vez disso, fizeram algo que ninguém havia feito nessa escala: aplicaram uma série de filtros de risco e exclusão baseados na prudência e na prevenção de danos. Criaram o mapa mais detalhado até hoje de onde não se deveria armazenar o CO₂.
Os “poréns” que reduzem a capacidade
Na pesquisa, os especialistas apontaram diferentes razões para ir retirando capacidade de armazenamento do nosso planeta. Elas podem ser resumidas nos seguintes pontos:
- Risco sísmico: foram descartadas todas as áreas com atividade sísmica moderada ou alta, já que injetar CO₂ a alta pressão nesses locais pode reativar falhas geológicas e provocar terremotos.
- Áreas protegidas e polares: em conformidade com acordos internacionais, como o de Kunming-Montreal, foram excluídos todos os parques naturais, reservas da biosfera e áreas ambientalmente sensíveis.
- Proximidade de cidades: para proteger a saúde humana e evitar a contaminação de aquíferos, foi estabelecida uma zona de exclusão de 25 km ao redor das áreas urbanas, já que um vazamento de CO₂ poderia acidificar a água potável.
- Profundidade do oceano: a tecnologia atual de extração offshore se concentra em águas relativamente rasas. O estudo estabelece um limite prático de 300 metros de profundidade marinha, já que ultrapassar esse limite eleva os custos e os riscos, como lembrou o desastre da Deepwater Horizon.
- Fronteiras internacionais: armazenar carbono sob o território de outro país é um campo minado legal e político. O estudo assume que as contas transfronteiriças seriam, na prática, muito difíceis de usar sem acordos internacionais complexos e, atualmente, inexistentes.
A principal conclusão do estudo é que o armazenamento geológico não é ilimitado. É um recurso finito, como o petróleo ou o lítio, e deve ser gerido com uma visão intergeracional. É, como dizem os autores, uma “conta poupança” que pertence a esta e às futuras gerações.
Atualmente, ele é usado para mitigar as emissões atuais e permitir a continuação da queima de combustíveis fósseis, além de ajudar a reverter o aquecimento global, já que, ao armazenar esse gás, o objetivo é reduzir a temperatura do planeta de forma geral. Mas o conflito é evidente: cada tonelada usada hoje para o primeiro objetivo é uma tonelada a menos que as gerações futuras terão à disposição.
Há um limite
Talvez o dado mais impactante do estudo seja este: se dedicássemos a totalidade desse limite prudente de 1.460 gigatoneladas exclusivamente para remover o carbono da atmosfera, só poderíamos reduzir a temperatura global em, no máximo, 0,7 ºC.
Isso coloca um teto muito real para as populares estratégias de “overshoot”, que confiam em que poderemos ultrapassar o limite de 1,5 °C e depois “resfriar” o planeta com tecnologias de captura em massa. Este estudo nos mostra que nossa capacidade de retroceder é, no melhor dos casos, muito limitada.
Se não podemos confiar em uma limpeza massiva posterior, a única forma segura de reduzir as emissões de maneira drástica e urgente, temos um problema. O estudo demonstra que, no ritmo atual, muitos cenários climáticos esgotariam esse orçamento de armazenamento antes do ano 2200, deixando as futuras gerações sem ferramentas para gerenciar o clima.
Países bons e ruins de armazenamento
A análise também revela um novo panorama geopolítico, com claros “vencedores” e “perdedores” nessa corrida. Os vencedores são países como Rússia, Estados Unidos, China, Brasil e Austrália, que mantêm grande potencial de armazenamento mesmo após a aplicação de todos os filtros de risco.
No outro extremo, temos os países “pobres em armazenamento”, como os pertencentes à União Europeia, Índia e Noruega, que veem seu potencial drasticamente reduzido. Isso significa que, para cumprir seus objetivos, poderiam ter que depender de outros países para armazenar o CO₂ capturado, criando novas dependências econômicas e logísticas.
Este estudo não significa que a captura de carbono seja inútil. Continuará sendo uma tecnologia crucial para descarbonizar indústrias como a de cimento ou aço. O que ele confirma é que essa tecnologia não é uma desculpa para adiar a ação climática. É um lembrete contundente de que não existem soluções tecnológicas mágicas que nos isentem da tarefa mais dura e urgente: parar de emitir gases de efeito estufa.
Imagens | Peter Burdon
Tradução via: Xataka Espanha.

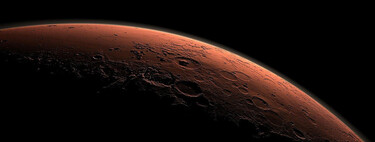

Ver 0 Comentários