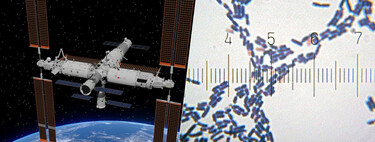No dia 30 de outubro de 1961, um bombardeiro soviético cruzou os céus do Ártico rumo a Novaya Zemlya. Preso sob sua fuselagem, havia um artefato do tamanho de um ônibus: uma bomba nuclear sem precedentes. Às 11h32, a chamada Bomba Tsar foi liberada. Um paraquedas retardou sua queda, dando tempo para que o avião se afastasse.
Logo depois, a detonação iluminou o céu com uma bola de fogo de quase 10 quilômetros de diâmetro e uma nuvem em forma de cogumelo que subiu mais de 65 quilômetros na atmosfera. A cena era surreal. Com 50 megatons de poder explosivo — mais de 3.300 vezes a bomba de Hiroshima —, a Bomba Tsar se tornou o maior símbolo da insanidade nuclear.
Mas poderia ter sido muito pior.
O despertar de uma nova era
Com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, o mundo mudou de forma irreversível. Aquelas bombas — de 16 e 21 quilotons, respectivamente — marcaram o início de uma era de poder destrutivo sem precedentes. No entanto, apesar de sua força devastadora, elas foram apenas o primeiro passo em uma escalada tecnológica ainda mais sombria.
O que viria a seguir ultrapassaria qualquer imaginação, por mais ousada que fosse. A bomba mais potente já detonada foi justamente a Tsar soviética, com 50 megatons — embora seu projeto original previsse o dobro disso: 100 megatons.
O mais perturbador? Aquilo ainda não era o limite. Em segredo, os Estados Unidos já haviam começado a planejar algo ainda mais colossal.
O conceito de “super”
As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram baseadas em fissão: uma reação em cadeia em que núcleos atômicos pesados se dividem, liberando uma grande quantidade de energia. Mas, como já mencionamos, enquanto essas armas eram desenvolvidas, alguns cientistas começaram a imaginar um segundo estágio ainda mais destrutivo: a fusão.
A ideia envolvia unir núcleos leves, como os de deutério e trítio, formando um núcleo mais pesado. Esse processo libera ainda mais energia do que a fissão. No entanto, para que essa reação ocorra, seria necessário primeiro desencadear uma explosão por fissão, o que levaria ao conceito das bombas de hidrogênio.
Na década de 1940, tudo isso ainda era especulação teórica. Mas essa especulação não demoraria a se tornar realidade.
 Fotografia de uma réplica do invólucro da Tsar Bomba
Fotografia de uma réplica do invólucro da Tsar Bomba
Lá vem o comunismo
Após a detonação da primeira bomba atômica soviética, em 1949, os Estados Unidos aceleraram seus programas termonucleares. O medo do avanço comunista, intensificado pela revolução na China no mesmo ano, fez com que o Conselho de Segurança Nacional recomendasse quadruplicar os gastos militares.
Nesse cenário, surgem as figuras de Edward Teller e Stanislaw Ulam, que desenvolveram o design que até hoje serve de base para as bombas de hidrogênio. Em 1952, o teste “Mike”, da Operação Ivy, demonstrou pela primeira vez o princípio termonuclear: uma explosão de 10,4 megatons — 500 vezes mais poderosa que a bomba de Nagasaki — que deixou uma cratera de 1.900 metros de diâmetro.
Mesmo com tamanha força, aquilo ainda não era o bastante para Teller.
A semente do Sundial
Dois anos depois, em 1954, foi detonada a bomba apelidada de “Shrimp”, durante o teste Castle Bravo. A expectativa era alta, mas o resultado surpreendeu até seus próprios criadores. A explosão atingiu 15 megatons, o equivalente a mil vezes Hiroshima e liberou níveis de radiação devastadores. Ainda assim, o impulso de Teller por mais poder não parou. Ele queria mais. Muito mais.
Foi aí que nasceu um dos projetos mais absurdos e aterrorizantes da história nuclear: o Projeto Sundial. Idealizado por Teller e por cientistas do Laboratório de Radiação de Livermore, o plano propunha uma nova escala de destruição. Esqueça quilotons ou megatons, a ideia era entrar na era dos gigatons.
Dois irmãos
Foram projetadas duas armas: Gnomon e Sundial. A Gnomon serviria como "primária", com uma detonação de 1.000 megatons. Seu único objetivo seria ativar a Sundial, que teria um poder de 10.000 megatons, ou seja, 10 gigatons.
Pra colocar em perspectiva... volte à imagem do início. Sim, é disso que estamos falando.
Estamos falando de uma potência mais de 200 vezes superior à da Tsar Bomba. Um número que praticamente não cabe dentro do próprio conceito físico de explosões convencionais.
O apocalipse em potência
A lógica por trás do Projeto Sundial ultrapassa qualquer cálculo tradicional. Em potências tão extremas, as leis que regem a escalabilidade da destruição simplesmente deixam de fazer sentido. O calor, a pressão e a energia liberados seriam tão absurdos que, em teoria, poderiam até abrir um buraco na atmosfera.
Um relatório publicado pelo Bulletin of the Atomic Scientists apontava que uma bomba como a Sundial, detonada a cerca de 45 quilômetros de altitude, teria potencial para causar incêndios em uma área do tamanho da França. O número de mortos seria inimaginável, não apenas pela explosão imediata, mas pelas consequências radioativas em escala global.
Comparada a esse cenário, Hiroshima, com suas 140 mil vítimas, pareceria um sussurro diante do cataclisma que uma arma como a Sundial representaria.
Não era ficção científica
Embora pareça uma fantasia de laboratório, o Projeto Sundial não foi uma piada nem uma ideia excêntrica qualquer. Documentos desclassificados e análises históricas indicam que a equipe de Livermore realmente trabalhou por anos no desenvolvimento da Gnomon, com planos concretos para testá-la durante a Operação Redwing, em 1956.
O teste acabou sendo cancelado, mas a simples existência desse plano mostra até onde o medo, a ambição científica e a lógica da dissuasão nuclear levaram as superpotências — literalmente à beira do inaceitável.
Ecos de Sundial
O Projeto Sundial nunca saiu do papel, mas sua concepção foi suficiente para provocar um debate profundo na política dos Estados Unidos. O avanço no poder destrutivo dessas armas já extrapolava não só a estratégia militar, mas também os limites da ética, da logística e até da própria física do planeta.
Embora muitos tenham descartado sua utilidade tática por ser impraticável — afinal, uma bomba dessas proporções era impossível de ser lançada —, seu potencial como instrumento de terror simbólico era gigantesco. Assim como aconteceu com a Tsar Bomba, seu valor era mais político do que operacional. Uma ameaça pairando no ar, feita para mostrar até onde uma nação poderia ir, se realmente quisesse.
Monstro nas sombras
No fim das contas, o Projeto Sundial foi se dissolvendo lentamente em meio a restrições políticas, tratados internacionais e uma rara dose de senso prático. A ratificação do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, em 1963, representou um freio às detonações atmosféricas, o que, na prática, inviabilizou o avanço de armas com rendimento extremo.
A estratégia nuclear passou a favorecer ogivas múltiplas menores, mais portáteis e operacionais, deixando para trás a visão de apocalipse total que Sundial e sua prima soviética, a Tsar simbolizavam.
Imaginar o inimaginável
Não há dúvida de que, hoje, Sundial é apenas uma nota de rodapé na história da guerra nuclear. Mas a lição que carrega jamais deveria ser esquecida. Ela nos lembra algo fundamental, especialmente num momento em que o mundo parece cada vez mais beligerante: não existe limite técnico para o poder destrutivo que a humanidade pode construir, se realmente quiser.
Sundial e todos os anos de pesquisa ao seu redor foram trancados em um cofre, para que nunca mais fossem abertos. Mas talvez a pergunta mais urgente não seja se podemos reviver esse projeto. E sim: por que diabos iríamos querer isso?
Enquanto as potências nucleares modernas testam novas formas de entrega de drones submarinos a sistemas hipersônicos, a lógica que deu origem a Sundial continua viva. Mais viva do que gostaríamos de admitir.
Se quiser resumir a ameaça, ela já não é apenas física. É simbólica. É o lembrete de que a humanidade segue sendo capaz de imaginar, projetar e construir a própria aniquilação em escala planetária.